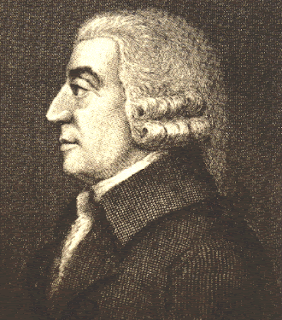A introdução do
As Formas Elementares da Vida Religiosa, clássico do sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), aborda a questão da categorização do conhecimento e antecipa que as categorias têm origem social. Diferentemente dos aprioristas, que acreditam serem as categorias anteriores à experiência sensível (e que por isso têm inclusive a função de condicioná-la), e dos empiristas, que preferem acreditar que elas são construídas gradativamente a partir da experiência individual, Durkheim procura suprimir as insuficiências de ambas essas visões ao atribuir toda a capacidade criativa ao convívio social. De início a idéia não parece muito convincente (ou antes parece ser um mero deslocamento do problema: o que era
a priori apriorista, ou não, passou a ser
a priori social), mas ao menos temos a promessa de que a tese será abundantemente demonstrada mais adiante.
O livro se proprõe a analisar a forma religiosa mais primitiva de que temos notícia, o totemismo, principalmente o australiano. O motivo é simples: se queremos entender que impulsos teriam motivado o ser humano a desenvolver as manifestações religiosas, teremos mais probabilidade de sucesso se os analisamos em sua forma mais pura possível, isto é, em sua forma mais primitiva. É por isso também que Durkheim dá enfase à variante australiana do totemismo, citando a norte-americana, mais desenvolvida e portanto menos característica, apenas de passagem, quando ela parece capaz de esclarecer algum ponto duvidoso.
O didatismo de Durkheim é realmente admirável e é bem perceptível nos trechos descritivos, em que são delineados as crenças e os ritos totêmicos, e negativos, em que se criticam as principais concepções da religião elementar. Os capítulos iniciais são dedicados à exposição de duas delas: o animismo e o naturismo. O animismo, como se sabe, procura explicar a origem do fenômeno religioso através dos seres espirituais (almas, espíritos, deuses, anjos, demônios etc.), enquanto que o naturismo enxerga nas forças cósmicas (catástrofes naturais, astros, animais, minérios etc.) o começo de tudo. Segundo o animismo, a noção de alma teria surgido através do sonho: o homem, vendo-se a si mesmo, num sonho, em ambientes desconhecidos e com pessoas estranhas, ou até mesmo em lugares que sabe serem distantes, supõe existir dentro de si uma entidade móvel que pode percorrer grandes distâncias enquanto ele dorme. Se ele sonha com algum morto, supõe inclusive que essa entidade tem o poder de se transportar ao mundo dos mortos, sempre retornando à sua morada habitual no momento em que o sonho acaba.
Durkheim se opõe a essa concepção observando, muito propriamente, que é difícil entender como uma espécie de alucinação temporária (o sonho), tenha podido dar origem a um sistema tão abrangente e de influência tão direta na vida de todos nós. Não são poucos os que admitem que a idéia de moral, noções de direito e até de ciência têm sua origem no pensamento religioso; como explicar que aspectos que viriam a moldar o que entendemos por civilização sejam todos oriundos de uma experiência vaga e confusa como o sonho, o qual poderia, de resto, ser explicado cada um à sua maneira? A principal objeção de Durkheim ao animismo diz respeito à escassez de 'objetividade' do sonho: se a religião afeta nossas vidas de uma maneira tão direta e palpável, é inadmissível que ela tenha como origem algo além do estritamente real.
O naturismo parte para o extremo oposto, o que significa dizer que as sensações geradoras do sentimento religioso são naturais e podem ser experimentadas a todo momento: a chuva, o sol, os eclipses, a movimentação das estrelas, a mudança das estações. Durkheim reconhece a sensação de maravilhamento que os fenômenos naturais são passíveis de suscitar, mas lembra que esse posicionamento de inferioridade em relação à natureza é um produto bem tardio de nossa civilização. O homem primitivo, muito pelo contrário, deveria acompanhar com certa monotonia a passagem de dias tão parecidos uns com os outros. A impressão inicial deveria portanto ser a de uma regularidade massiva, apenas ocasionalmente perturbada por singularidades. Como atribuir caráter divino a algo que se manifesta de maneira tão desconexa e espaçada? Acresce o fato de as primeiras 'divindades' (os totens) serem animais e vegetais comuns, desprovidos de poderes excepcionais, e não forças cósmicas, que só seriam alçadas ao nível do divino bem mais tarde.
Durkheim está sempre atento aos malabarismos retóricos empregados para justificar uma determinada tese; assim, quando respondemos à pergunta "por que a natureza teria inspirado no homem primitivo a idéia do divino" com um simples "é próprio da condição humana sentir-se assim em relação à natureza", estamos apenas dando um passo para trás: poderíamos prosseguir perguntando por que isso é próprio da condição humana. Se repetirmos o processo indefinidamente chegaremos a uma de duas conclusões. A primeira é que não nos é dado conhecer a resposta, e a segunda é admitir que a tese em questão é insuficiente. Parece pouco provável que um analista tão atento às falhas dos outros seja capaz de cometer o mesmo tipo de erro. Ao propor uma alternativa para a origem das crenças totêmicas, Durkheim observa que
De uma maneira geral, não há dúvida de que uma sociedade tem tudo o que é preciso para despertar nos espíritos, pela simples ação que exerce sobre eles, a sensação do divino; pois ela é para seus membros o que um deus é para seus fiéis.
A primeira dificuldade consiste em saber o que exatamente ele entende por sociedade. Está claro que o convívio social tende sempre a alargar nossas perspectivas; a comunhão de idéias, de experiências e de sentimentos é inegavelmente fundamental para a sustentação e engrandecimento de qualquer ser humano, mas Durkheim parece querer ir bem além. A visão que ele tem do poder social é de tal maneira obscura que há inclusive uma dificuldade terminológica ao expressá-la; recorre-se com frequência a termos como 'energia', 'eletricidade', 'divindade' (sendo que, se bem lembramos, é exatamente o caráter divino da sociedade que ele pretende mostrar) etc. para descrever a influência social sobre a consciência particular.
Durkheim parece particularmente entusiasmado com o fato de o homem primitivo adentrar um estado de frenesi em vários dos rituais coletivos; para ele, isso seria indicativa de que a comunhão social tem o poder de não apenas elevar o homem acima de si mesmo, mas também de levá-lo a um estado de torpor em que nem sequer é capaz de se reconhecer. E, quando se lhe apresentam objeções, prefere supor que a origem de tanto poder é complexa demais para ser discernida no momento:
Mas a ação social segue caminhos muito indiretos e obscuros, emprega mecanismos psíquicos complexos demais para que o observador vulgar possa perceber de onde ela vem. Enquanto a análise científica não vier ensinar-lhe isto, ele perceberá que é agido, mas não por quem é agido.
Quando lembramos a principal objeção de Durkheim ao animismo, a de que toda a religião, segundo essa teoria, não passaria de uma grande alucinação, surge uma dúvida inquietante: não seria essa mesma objeção válida para a tese de Durkheim, com a diferença de que agora teríamos 'alucinações coletivas'? Ele mesmo percebe esse perigo e responde da maneira mais evasiva possível: são alucinações, mas alucinações calcadas no 'real' (a realidade social, que é inegável), seja isso lá o que for. Aceita-se de bom grado essa resposta quando se aceita a visão que Durkheim tem da sociedade, mas não é justamente essa visão que ele ainda está por provar? Chega a ser incrível que alguém tão atento às falhas alheias seja incapaz de perceber a ingenuidade do próprio raciocínio.
Um particular que ilustra bem a importância exagerada que Durkheim atribui à sociedade é o dos ritos piaculares. É sabido que os ritos dedicados aos mortos pelos primitivos da Austrália podem chegar a níveis assombrosos de violência. A mulher do morto, numa peregrinação que pode durar horas, entra num estado de desespero que a leva a queimar o próprio corpo (pernas e seios), arrancar os cabelos e arranhar a testa até que o sangue lhe escorra pelos olhos. Algumas dessas flagelações são tão intensas e prolongadas que levam à morte do indivíduo. Durkheim explica todo esse processo da seguinte maneira:
Sabe-se, por outro lado, como os sentimentos humanos se intensificam quando se afirmam coletivamente. A tristeza, da mesma forma que a alegria, se exalta, se amplifica ao repercutir de consciência em consciência, por isso acaba se exprimindo exteriormente na forma de movimentos exuberantes e violentos. Não é mais a agitação alegre que observávamos há pouco: são gritos, urros de dor. Cada um é arrastado por todos; produz-se algo como um pânico de tristeza. Quando a dor chega a esse grau de intensidade, junta-se a ela uma espécie de cólera e exasperação. Sente-se a necessidade de quebrar, destruir alguma coisa. As pessoas se voltam contra si mesmas ou contra os outros. Golpeiam-se, ferem-se, queimam-se, ou então se lançam contra alguém para golpeá-lo, feri-lo e queimá-lo. Foi por isso que se estabeleceu o costume de se entregar, durante o luto, a verdadeiras orgias de torturas.
A primeira suspeita que se tem ao ler esse trecho é que ele parte de um conhecimento psicológico do homem primitivo que nos é completamente estranho. Poderíamos pensar no convívio coletivo como uma espécie de atenuante para a dor; as pessoas, em vez de partir para a destruição, poderiam muito bem consolar-se mutuamente, mitigando qualquer impulsivo violento que viesse a surgir. É provável que tudo isso seja completamente inviável em se tratando da mente primitiva, mas Durkheim tampouco se dá ao trabalho de explicar por que sua suposição escolhe o caminho contrário. Em verdade, a partir de determinado momento, a 'sociedade' serve como elemento explicativo para todo e qualquer pequeno mistério que lhe apareça pela frente. Desde que o
Formas Elementares foi publicado (1917), chegou-se à conclusão (Frazer) de que o totemismo não é a forma religiosa mais antiga. Essa descoberta, se verdadeira, obviamente invalida argumentações que se sustentem nesse fato (como a última objeção de Durkheim ao animismo), mas essas argumentações têm ao menos o mérito de manter uma coerência interna. Já a panacéia social de Durkheim está muito além de qualquer refutação factual.
A imagem que Durkheim tem da religião como um todo é curiosa: ao mesmo tempo em que ele nos faz um tremendo favor ao jogar por terra idéias modernas que desmecerem irracionalmente o pensamento religioso (ao observar, por exemplo, que a mentalidade secular atual ainda é carregada de aspectos religiosos, ou ao mostrar que a própria lógica científica tem sua origem na religião), ele empacota a coisa toda e a subordina a uma entidade verdadeiramente sobrenatural, a tal sociedade. Se julgamos encontrar uma alternativa ao enfatizar a existência de cultos individuais, totens individuais etc., Durkheim é rapido em lembrar que "as forças religiosas às quais eles [os indivíduos] se dirigem não são mais que formas individualizadas de forças coletivas." Toda e qualquer religião só deixa de ser uma alucinação, só passa a ter uma existência propriamente dita, quando se manifesta socialmente. Uma noção tão restrita do que seria a realidade só poderia levá-lo à seguinte conclusão:
Mas esses aperfeiçoamentos metodológicos não são suficientes para diferenciar a ciência da religião. Sob esse aspecto, ambas perseguem o mesmo objetivo: o pensamento científico é tão-só uma forma mais perfeita do pensamento religioso. Parece natural, portanto, que o segundo se apague progressivamente diante do primeiro, à medida que este se torne mais apto a desempenhar a tarefa.
Ou seja: a religião só tem por que existir enquanto a ciência não se desenvolve completamente, como se essa crença na potencialidade ilimitada da ciência não fosse, ela mesma, religiosa. Durkheim se propõe a estudar as origens da religião para concluir que ela não passa de uma ciência mais estabanada, que se posiciona à frente da ciência genuína apenas para ser ratificada ou corrigida mais adiante; em breve não precisaremos mais dela. Passados menos de 100 anos, é bom saber que não precisamos mais de Durkheim.