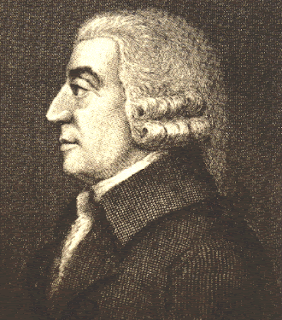Numa palestra (chamada Individualism: True and False) dada na University College de Dublin, em 17 de dezembro de 1945, F. A. Hayek, constrangido com o mal emprego do termo 'individualismo', resolveu estabelecer uma divisória definitiva entre o que ele entendia por individualismos 'verdadeiro' e 'falso'. Uma das características que facilitariam essa distinção seria o credo, por parte dos falsos individualistas, no predomínio absoluto da razão humana no processo de construção da nossa cultura política. Os verdadeiros individualistas (Hayek refere-se principalmente a Edmund Burke e Alexis de Tocqueville), por outro lado, reconhecem que muito desse processo advém de tendências fora do controle e até incompreensíveis para um indivíduo isolado num determinado período histórico. O verdadeiro individualismo, então, não é aquele que atribui ao indivíduo um conhecimento transcendental das consequências de suas próprias atitudes, mas apenas aquele que acredita ser o indivíduo o mais indicado para aproximar-se desse conhecimento, quando e se ele for possível.
Numa palestra (chamada Individualism: True and False) dada na University College de Dublin, em 17 de dezembro de 1945, F. A. Hayek, constrangido com o mal emprego do termo 'individualismo', resolveu estabelecer uma divisória definitiva entre o que ele entendia por individualismos 'verdadeiro' e 'falso'. Uma das características que facilitariam essa distinção seria o credo, por parte dos falsos individualistas, no predomínio absoluto da razão humana no processo de construção da nossa cultura política. Os verdadeiros individualistas (Hayek refere-se principalmente a Edmund Burke e Alexis de Tocqueville), por outro lado, reconhecem que muito desse processo advém de tendências fora do controle e até incompreensíveis para um indivíduo isolado num determinado período histórico. O verdadeiro individualismo, então, não é aquele que atribui ao indivíduo um conhecimento transcendental das consequências de suas próprias atitudes, mas apenas aquele que acredita ser o indivíduo o mais indicado para aproximar-se desse conhecimento, quando e se ele for possível.A princípio pode parecer estranho (principalmente para o estudante brasileiro, intoxicado desde muito cedo com odes à Ilustração) que logo um economista se posicione contra o monopólio da razão. Não é que Hayek não goste da razão ou que prefira deixar tudo ao deus-dará; apenas gostaria de impor-lhe os limites cabíveis e, diga-se, inescapáveis. Ele argumenta que o individualismo racionalista -- de um Rousseau, por exemplo -- tende apenas a práticas socialistas já que, se existe mesmo um método racional indiscutível para organizar nossas vidas, alguém vai ter de ser 'escolhido' para divisá-lo e aplicá-lo à revelia das inevitáveis discordâncias. Nesse sentido, o racionalismo é nada mais que um convite à revolução, que parte do pressuposto de que alguém suficientemente inteligente e 'racional' seria capaz de transformar dum só golpe todas as nossas instituições.
Tendo isso em mente, não fica muito difícil entender por que o triunfo da razão humana se manifesta com clareza exemplar nos movimentos totalitários do século passado, desbancando até os tão exaltados avanços científicos e tecnológicos. Hannah Arendt (1906-1975) não cansa de enfatizá-lo em sua genealogia do totalitarismo, The Origins of Totalitarianism. É curioso que figuras como Hitler e Stalin, sobre quem tanto já foi escrito, ainda figurem no imaginário popular como ditadores intempestivos e dados a mudanças repentinas de planos; seriam mentes imprevisíveis, irracionais, tresloucadas. Parece que as picuinhas domiciliares ganharam mais atenção que os vastos e meticulosos planos de dominação, engendrados e avançados com uma coerência somente encontrável em tratados de lógica:
According to Stalin, neither the idea nor the oratory but "the irresistible force of logic thoroughly overpowered Lenin's audience." The power, which Marx thought was born when the idea seized the masses, was discovered to reside, not in the idea itself, but in its logical process which "like a mighty tentacle seizes you on all sides as in a vise and from whose grip you are powerless to tear youself away; you must either surrender or make up your mind to utter defeat."A capacidade de criar um mundo fictício e coerente em si mesmo nada tem de irracionalismo; muito pelo contrário, a abstração necessária para compor entes lógicos sem que eles existam no mundo sensível é um exercício de razão pura; aqui não há conhecimento empírico para nos auxiliar. Triângulos perfeitos não existem nem nunca existiram, mas ninguém nega a razoabilidade das definições de ângulo interno, comprimento de lado etc. e das consequências que daí advêm. Os mais incrédulos poderiam perguntar: como justificar logicamente a necessidade que o Partido tinha de acusar e punir inocentes que muitas vezes podiam provar a própria inocência? Certamente, dirão, temos aí um exemplo de vontade de poder desenfreada, uma paranóia injustificável em termos racionais. Também é comum, pra reforçar esse argumento, citar algumas esquisitices dos últimos anos de Stalin, como mandar um bedel provar sua comida por medo de envenenamento ou achar que havia algum gás letal entrando pelas frestas de seu escritório. Ou talvez o processo seja um pouco mais calculado, como sugerido por Arendt:
We are all agreed on the premise that history is a struggle of classes and on the role of the party in its conduct. You know therefore that, historically speaking, the party is always right (in the words of Trotsky: "We can only be right with and by the party, for history has provided no other way of being in the right."). At this historical moment, that is in accordance with the law of history, certain crimes are due to be commited which the Party, knowing the law of history, must punish. For these crimes, the Party needs criminals; it may be that the party, though knowing the crimes, does not quite know the criminals; more important than to be sure about the criminals is to punish the crimes, because without such punishment, History will not be advanced but may even be hindered in its course. You, therefore, either have commited the crimes or have been called by the party to play the role of the criminal -- in either case, you have objectively become an enemy of the Party. If you don't confess, you cease to help History through the Party, and have become a real enemy.Não chega a surpreender, então, que membros da SS mantivessem lealdade irrestrita ao Reich mesmo quando descobriam que eram, por algum motivo, inimigos do Reich. Não faria sentido -- não seria lógico -- questionar a autoridade do Partido simplesmente porque circunstâncias históricas os colocaram do lado dos adversários. O encadeamento lógico do comportamento totalitário é tão rigoroso que não se pode escapar de um mundo de finalismos: todo passo, todo gesto ou palavra tem um objetivo final grandioso, o nec plus ultra da condição humana na Terra. Todos eles são inteligíveis e seu impacto pode ser cuidadosamente aferido graças à superior inteligência do novo homem. Heinrich Himmler, chefe da SS, "quite aptly defined the SS member as the new type of man who under no circumstances will ever do 'a thing for its own sake'".
Hitler, Lenin, Stalin etc., esses prodígios da lógica, acabaram ficando conhecidos por terem um raciocínio lógico pouco desenvolvido, essa que para os racionalistas é a maior das desgraças. De qualquer maneira eles devem ser lembrados como testemunhos do que a razão humana é capaz de alcançar (ou destruir). Nesse ponto acho que estamos todos de acordo: não é pouca coisa.