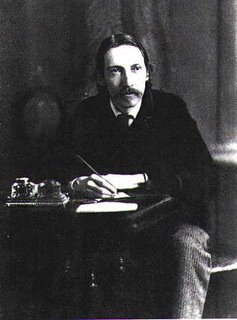Escrevi o texto abaixo há algumas semanas. Ele discute um trecho do livro
Guerras Justas e Injustas, do Michael Walzer, chamado
O Dialógo de Melos. Mais adiante também sao discutidas algumas cartas endossadas por 60 intelectuais norte-americanos (dentre eles Samuel Huntington, Francis Fukuyama e o próprio Walzer) e as respectivas respostas de intelectuais alemães. Não faço a mínima idéia de onde encontrá-las pela Internet, mas o conjunto ficou conhecido como
5 Letters About Just War - A Controversy.
Walzer, multiculturalismo e o vocabulário moral.Michael Walzer, num esforço bastante louvável para tentar entender a realidade moral da guerra, se serve, para a satisfação de quem lê, de duas figuras que muito têm a dizer a esse respeito: Tucídides e Hobbes. Vale lembrar que a
História da Guerra do Peloponeso, apesar de ter sido escrita quase que em paralelo com a própria guerra (431 - 404 a.C.), perdeu muito pouco de seu valor epistemológico; de fato, Tucídides tinha exatamente isso em mente quando escreveu, na parte final do capítulo 22 do livro I de sua História, que "... quem quer que deseje ter uma idéia clara tanto dos eventos ocorridos quanto daqueles que algum dia voltarão a ocorrer em circunstâncias idênticas ou semelhantes em conseqüência de seu conteúdo humano, julgará a minha História útil..."
Crítico severo de Heródoto, Tucídides defende um novo tipo de discurso histórico: não aquele que se compraz em relatar os acontecimentos grandiosos, mas um que procura investigar os fatores que verdadeiramente influenciavam (e influenciam) o homem no processo de tomada de decisões. É exatamente por isso que o ateniense faz questão de dar voz aos protagonistas da guerra, em discursos e exortações que pretendem deixar claro o porquê de cada decisão. Por trás dessas criações literário-filosóficas subsiste o hercúleo esforço de penetrar o coração humano e entrever, ainda que sob grandes restrições, a verdade histórica.
Ora vejam: Walzer chega a sugerir que Tucídides teria despido o discurso dos generais atenienses (já estamos no diálogo de Melos) de qualquer rodeio retórico para que pudéssemos perceber a decadência de seus valores. De fato, Tucídides não era o único a pensar assim. Lembremos que também Sócrates, quando perguntado se personalidades como o grande líder Péricles, o sofista Górgias ou o pensador Anaxágoras (todas eles grandes influências para Tucídides) teriam sido verdadeiramente sábios, limitou-se a responder que não. Não há como negar que Atenas, à época da guerra do Peloponeso, já não é mais a 'escola de toda a Hélade', assim como a supunha Péricles em sua famosa oração fúnebre (H.II.35-46).
Nós (assim como alguns atenienses) somos capazes de perceber esse declínio porque, como lembra Walzer nessa que é sua melhor observação em todo o texto, "os atenienses compartilhavam um vocabulário moral, compartilhavam esse vocabulário com o povo de Mitilene e de Melos e, guardadas as diferenças culturais, o compartilham também conosco." Essa constatação, apesar de irrefutavelmente verdadeira, é bastante perigosa: uma má interpretação sua nos transporta aos domínios do multiculturalismo. Explicaremos isso mais adiante. O fenômeno do multiculturalismo, dada sua complexidade e sua disseminação (principalmente nos Estados Unidos), mereceria um texto à parte; procuraremos, então, fazer uma pequena digressão que se limitará à discussão de alguns pontos-chave.
É sabido que o intelectual tipicamente multiculturalista procura nos alertar em relação à suposta violência com que são tratadas as chamadas 'minorias culturais' mundo afora; pensa-se logo em Edward Said e em seu influente livro
Orientalism, em que propugna a existência de uma 'cegueira intelectual' por parte das elites ocidentais. Segundo Said, temos uma visão distorcida e preconceituosa da cultura oriental em geral e da islâmica em particular. É uma espécie de continuação da filosofia do italiano Antonio Gramsci. John Fonte, em seu artigo
Why There is a Culture War, faz um breve resumo:
Power, in Gramsci’s observation, is exercised by privileged groups or classes in two ways: through domination, force, or coercion; and through something called "hegemony," which means the ideological supremacy of a system of values that supports the class or group interests of the predominant classes or groups. Subordinate groups, he argued, are influenced to internalize the value systems and world views of the privileged groups and, thus, to consent to their own marginalization.
Que não nos enganemos, pois: a filosofia de Gramsci é exatamente o que parece ser, isto é, um marxismo estendido ao campo da ideologia. Um marxismo mais sutil, alguns diriam. O importante é perceber que esse tipo de discurso está sempre à procura de uma vítima, não de uma solução: os negros, os hispânicos, as mulheres etc., devem todos ser incondicionalmente protegidos, ainda que isso signifique uma abdicação temporária dos ideais democráticos que nos são mais caros. Entretanto, há motivos para acreditar que a democracia ocidental não é assim tão flexível; devemos considerar a possibilidade de que, talvez, não tenhamos condição de, como querem os multiculturalistas, 'receber' em nosso seio qualquer tipo de discrepância cultural. Já dizia Aristóteles que "não devemos discutir com quem não concorda com os princípios". Ora, que 'princípios' seriam esses? Trata-se de uma espécie de denominador comum necessário para que qualquer discussão tenha um mínimo de sucesso: se ele não existe, a argumentação não passa de perda de tempo; palavras ao vento,
blowing in the wind.
Os multiculturalistas se servem da teoria do pluralismo de Isaiah Berlin, que é liberal e individualista, mas na realidade o que fazem é extrapolá-la. Vejamos o que diz a esse respeito Álvaro Delgado-Gal, em seu surpreendentemente elucidativo ensaio sobre o multiculturalismo,
La Disciplina de la Libertad:
El multiculturalismo defiende la simultánea validez o deseabilidad de formas de vida recíprocamente irreducibles. Barruntos de esto, aunque sólo barruntos, se aprecian en la tesis berliniana sobre el pluralismo de los valores. Según Isaiah Berlin, por ejemplo, la vida heroica que exalta la Ilíada no es comparable bajo ningún aspecto con la vida de contemplación a que estuvieron consagrados los primeros monjes cristianos. Ni la dedicación a los propios asuntos que pregona Aristipo de Cirene se compadece con el ethos republicano y participativo que pregona Maquiavelo en La primera década de Tito Livio.
O que Delgado-Gal chama de 'formas de vida recíprocamente irreducibles' é exatamente a falta de 'princípios' em comum de que falava Aristóteles. Está claro que o diálogo continuará sendo, até onde possível, a melhor solução; mas é exatamente em acreditar que ele seja sempre possível que se encontra o grande equívoco multiculturalista.
É com grande satisfação, então, que percebemos o discernimento de Walzer: diz ele, no trecho citado, que devemos "guardar as diferenças culturais". Daí se depreende que não nos é permitido estender essa lógica ad infinitum, isto é, achar que todos os indivíduos do mundo compartilham um vocabulário moral conosco. Podemos, sim, falar em valores universais (a teoria pluralista berliniana insistia em que isso fosse possível), e o que se observa é que o discurso multiculturalista de deificação da diferença acaba ameaçando a existência dessa possibilidade. Se tanta autonomia for relegada a cada grupo, chegaremos, eventualmente, a um estado de anarquia incipiente, em que cada um de nós estaria autorizado a formular seus próprios valores 'universais'. Seria uma grande ingenuidade, além de representar uma cegueira em relação ao que a própria história do século XX tem a nos ensinar. Lembremos a célebre frase cunhada por Churchill, em referência ao episódio da Conferência de Munique, 1938, em que Grã-Bretanha (Neville Chamberlain) e França (Édouard Daladier) capitularam ante o nazismo para supostamente assegurar a paz: "Entre a desonra e a guerra, eles escolheram a desonra. E terão a guerra." Qualquer semelhança com a atual situação no Irã não é mera coincidência (com a diferença de que, ora vejam, Hitler costumava ter um discurso mais moderado).
Em se tratando de um diálogo em que ambas as partes aceitam um número básico de premissas, o relativismo de Hobbes não é justificável. Como o próprio Walzer faz questão de lembrar, não se pode simplesmente dizer qualquer coisa. Ainda que existam artifícios especificamente engendrados para deturpar essa transparência (pensa-se logo na dialética erística de Schopenhauer, em que o objetivo final é 'ganhar' a discussão, e não chegar à verdade), os contendores têm o direito de exigir esclarecimentos exatamente porque há um 'chão comum' e, em caso de desonestidade, será possível demonstrá-la e repudiá-la. Justifica-se, assim, o rigor etimológico típico de filósofos e pensadores responsáveis, cientes dos 'desastres' que qualquer ambigüidade pode incitar: ainda que a acepção dada ao termo dialética oscile bastante desde Aristóteles, passando por Tomás de Aquino e chegando a Schopenhauer, em cada um deles encontramos um esforço muito grande para que a definição da palavra, assim como eles a entendiam, esteja além de qualquer mal-entendido.
Guerra justa, realismo e relativismo.O primeiro e mais revoltante costume a ser rechaçado numa discussão que pretenda elucidar a questão da 'guerra justa' é o de nivelar por baixo as faltas cometidas por indivíduos, grupos ou nações. Assim como Lula e seus sequazes gostariam de passar a impressão de que governo e oposição 'são todos iguais', e de que portanto não faz o menor sentido exigir punições maiores para faltas maiores (porque não há faltas maiores), assim os signatários alemães das cartas que acabamos de ler pretendem igualar, em termos de gravidade, os ataques terroristas ao que eles chamam de 'fundamentalismo' norte-americano. Esse é um absurdo que os próprios representantes americanos percebem e que mais tarde será negado na resposta alemã, mas não podemos interpretar de outra forma as palavras que seguem: "There are no universally valid values that allow one to justify one mass murder by another".
Percebamos que não há o cuidado de estabelecer qualquer diferenciação entre um 'mass murder' e outro: somos forçados a concluir que são ambos igualmente condenáveis. Se um deles teve como objetivo deliberado a morte do maior número possível de civis, pouco importa; o que realmente importa é que o contra-ataque norte-americano foi igualmente mortífero. A falta de uma 'hierarquização do crime' apropriada dificulta bastante o debate; se não conseguimos convencer uma pessoa de que um crime intencional é mais alarmante que um conjuntural (preceito básico na teoria do direito), não será possível convencê-la de que medidas extremas são necessárias para evitar a recorrência do primeiro tipo de crime.
Os americanos fazem questão de repudiar o realismo analisado por Walzer; para eles, há, sim, a possibilidade de inserir a problemática da guerra na esfera moral. Os alemães, por outro lado, parecem querer evitar essa discussão; preferem sugerir que há alternativas melhores, a velha diplomacia... O vulto de Churchill, com seu sarcasmo e seu charuto, surge novamente para zombar da ingenuidade alemã. Faremos agora uma breve digressão (mais uma), na tentativa de entender essa hesitação renitente e balofa dos intelectuais alemães.
Logo na Conferência de Yalta houve um consenso de que o nazismo havia perpetrado atrocidades inomináveis não somente contra judeus mas contra toda a humanidade. O mesmo não aconteceu com o comunismo: até hoje nos restam "intelectuais" de prestígio (refiro-me a Gabriel García Marquez, amigo pessoal de Fidel Castro, e a José Saramago, entre outros) que insistem em defender a lógica assassina de ditadores os mais truculentos. No Brasil ou em qualquer outro país latino-americano, não raro encontramos jovens completamente ocidentalizados ostentando camisetas de facínoras como Che Guevara. Só recentemente estudos mais completos têm sido feitos em relação a esse incompreensível 'esquecimento': podemos citar o Livro Negro do Comunismo, escrito por intelectuais (pasmem!) esquerdistas franceses, além de algumas biografias mais reveladoras de Stálin e de Trótski. Como explicar isso? Por que um mal foi prontamente identificado enquanto o outro, igualmente ou até mais danoso, exatamente porque se estendeu por tanto tempo, continua até os dias que correm a iludir tantas almas? A resposta, é claro, está no discurso humanista e bonzinho por trás de todo o movimento. Mas isso é matéria para um outro texto.
Voltando. A intenção aqui é apontar para o fato de que o 'discurso' da vez é o multiculturalista: é ele e nenhum outro que faz com os intelectuais alemães cheguem ao absurdo de dizer que "The inviolability of human dignity applies not only to people in the United States, but also to people in Afghanistan, and even to the Taliban and the al-Qaeda (...)" O ideal de tolerância ocidental chegou a níveis insustentáveis: queremos garantir a dignidade de indivíduos que, além de não ter reivindicações políticas bem definidas, não se constrangem em tirar suas próprias vidas (juntamente com as de muitos outros 'inimigos') para que a nossa própria dignidade seja extirpada. Trata-se de comportamento literalmente suicida: fazemos todo o possível para que a barbárie continue em sua cruzada assassina, assistida pelos incansáveis militantes do politicamente correto.
Ouve-se com bastante freqüência o argumento de que os terroristas têm certa razão porque estariam respondendo a anos de opressão e truculência norte-americanas, e que, coitados, têm seus preceitos religiosos sistematicamente vilipendiados pelo consumismo e pelo laicismo ocidental. Além disso, fazem o que fazem pensando na causa dos pobres. É exatamente o que se encontra na seguinte passagem: "Their own inferiority, perceived as unjust, evokes an affective loss of inhibitions, mobilizing a huge potential for reaction, up to the willingness to sacrifice one's own life, too, in suicide assassinations." Nada poderia estar mais distante da realidade. Os líderes das facções terroristas islâmicas são extremamente ocidentalizados e, não raro, estudaram nas melhores universidades européias. É o que nos relata Daniel Pipes, especialista no assunto, num ensaio convenientemente intitulado
The Western Mind of Radical Islam:
Fat'hi ash-Shiqaqi, a well-educated young Palestinian living in Damascus, recently boasted of his familiarity with European literature. He told an interviewer how he had read and enjoyed Shakespeare, Dostoyevsky, Chekhov, Sartre, and Eliot. He spoke of his particular passion for Sophocles' Oedipus Rex, a work he read ten times in English translation "and each time wept bitterly." Such acquaintance with world literature and such exquisite sensibility would not be of note except for two points - that Shiqaqi was, until his assassination in Malta a few weeks ago, an Islamist (or what is frequently called a "fundamentalist" Muslim) and that he headed Islamic Jihad, the arch-terrorist organization that has murdered dozens of Israelis over the last two years.
Não é apenas isso: Pipes prossegue dizendo que a motivação para esses terroristas não é de maneira alguma oriunda de um desrespeito para com a sua religião: ela advém, antes, de um sentimento de incompatibilidade entre os valores que aprenderam a admirar (modernidade, tecnologia e liberdade ocidentais), e os preceitos anacrônicos de sua religião. O alegado desrespeito à religião serve apenas de argumento para incitar a agressividade dos mais crédulos.
E quanto à alegação de que eles fazem tudo isso com a causa dos mais oprimidos em mente? Pois sim, há quem propugne semelhante despautério. Responderemos com outra pergunta: por que indivíduos tão sofisticados não levam todo o conhecimento que acumularam no ocidente para sua terra, em vez de explodir edifícios no outro lado do mundo? Se a intenção fosse realmente ajudar seus conterrâneos, o procedimento não teria sido outro. Não é o que se observa (citando, mais uma vez, Daniel Pipes): "Ramzi Yusuf, the accused mastermind of the World Trade Center bombing, is an electronics engineer and explosives expert with an advanced degree from Great Britain".
Ao fim e ao cabo, não se pode deixar de creditar a incompreensão alemã ao discurso multiculturalista e relativista reinante no cenário internacional. É esse relativismo tresloucado que os leva a uma tergiversação digna de um iniciante: "Even the Nazi regime and the Hamas assassins declared their actions as a 'just war'", como se não tivéssemos plena capacidade de diferençar, utilizando o 'vocabulário moral comum' de que falava Walzer, boas intenções de charlatanismo. Chamberlain e Daladier não foram capazes, e o que é pior: os atuais representantes europeus insistem em cometer o mesmo erro.